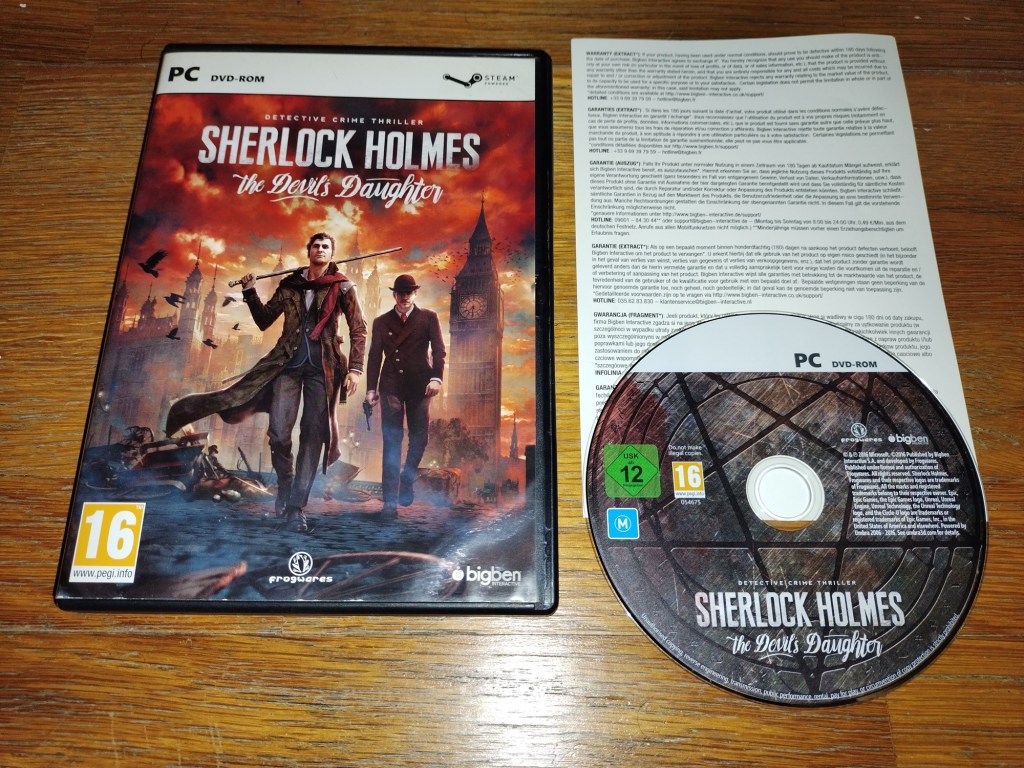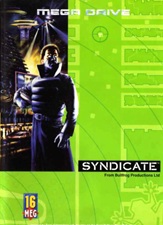Há já bastante tempo que não jogava nada da série Sherlock Holmes da Frogwares. Os seus primeiros títulos, apesar de modestos do ponto de vista técnico, sempre me impressionaram pela complexidade do trabalho de detective e pela importância da análise forense na investigação de crimes e na identificação dos responsáveis. A partir do The Testament of Sherlock Holmes, a Frogwares começou também a levar a série para as principais consolas do mercado e notou-se, desde então, uma maior preocupação com a narrativa e com a modernização do seu aspecto audiovisual. Seguiu-se Crimes & Punishments, que apresentou um motor gráfico mais evoluído e algumas novas mecânicas de jogo refrescantes, ainda que nem todas fossem executadas de forma irrepreensível. Quando vi as primeiras imagens do seu sucessor, este The Devil’s Daughter, fiquei entusiasmadíssimo com a perspectiva de o jogar um dia. Infelizmente, agora que finalmente o fiz, devo confessar que a experiência acabou por ser bastante decepcionante. Mas já lá vamos. O meu exemplar foi comprado na Vinted, algures no final de 2023, por cerca de 2€.
A história segue os acontecimentos narrados em The Testament of Sherlock Holmes, onde o famoso detective assumiu a paternidade adoptiva da jovem Kate, após a morte do seu pai, o vilão por detrás desse jogo. Em The Devil’s Daughter, Kate encontra-se de férias do colégio e decide passá-las junto do seu pai adoptivo. No entanto, a sua chegada coincide com uma série de novos crimes que acabam por consumir quase todo o tempo de Sherlock. Pouco antes do regresso de Kate, o detective ganha também uma nova vizinha, a jovem e misteriosa Alice, que começa a aproximar-se da rapariga contra a vontade de Sherlock, que desconfia das suas verdadeiras motivações. O jogo está dividido em cinco capítulos, sendo que o último é consideravelmente mais curto. Cada capítulo corresponde a um caso criminal distinto que teremos de investigar, enquanto a relação entre Alice e Kate se vai desenvolvendo em paralelo, apenas encontrando resolução no capítulo final.
As mecânicas base de Crimes & Punishments regressam aqui praticamente intactas. Estamos perante um jogo de aventura onde exploramos diferentes cenários, resolvemos puzzles, dialogamos com várias personagens e recolhemos pistas que nos permitirão, eventualmente, resolver os crimes em investigação. À semelhança dos títulos anteriores, há momentos de investigação forense, como autópsias ou análises químicas, mas o núcleo da experiência continua a residir no poder de observação e dedução de Sherlock Holmes. Tal como em Crimes & Punishments, cada caso apresenta vários suspeitos e a forma como organizamos os nossos raciocínios lógicos, com base nas pistas, factos e testemunhos recolhidos, pode levar a diferentes interpretações. Isso significa que podemos, efectivamente, acusar a pessoa errada. Para além da acusação, temos ainda a possibilidade de condenar ou absolver o suspeito, uma vez que, em muitos casos, as motivações por detrás dos crimes podem ser compreensíveis ou moralmente ambíguas. O jogo coloca assim sobre o jogador o peso da decisão moral. Em teoria, estas escolhas poderão ter consequências no decorrer da narrativa, algo que não consegui confirmar por apenas ter completado uma única jogada. Ainda assim, duvido que essas consequências sejam realmente significativas, sobretudo tendo em conta que os casos investigados são, na sua maioria, independentes entre si.

Uma das principais novidades introduzidas em The Devil’s Daughter é a maior liberdade de exploração de uma Londres vitoriana. Apesar de estar longe de ser um jogo de mundo aberto, muitas das ruas que visitamos podem ser exploradas de forma mais livre, permitindo encontrar algum conteúdo opcional, como mini-jogos dispersos pelos cenários. Alguns destes mini-jogos servem inclusivamente para treinar novas mecânicas, sobretudo aquelas mais orientadas para a acção. Entre estas novidades encontram-se segmentos furtivos, nos quais um dos jovens rapazes que tradicionalmente auxiliam Sherlock tem de seguir um suspeito pelas ruas de Londres sem ser detectado. Mais tarde, ainda no mesmo caso, somos colocados numa perseguição em que temos de fugir de um caçador armado, gerindo a fadiga, a barra de vida e a distância em relação ao agressor, recorrendo ocasionalmente a pontos de abrigo para recuperar forças. Outros capítulos incluem sequências de quick time events, segmentos de furtividade como um cemitério patrulhado por guardas, ou até momentos de exploração mais aventureiros, como a travessia de ruínas de uma pirâmide da civilização Maia, num claro piscar de olho ao espírito aventureiro dos filmes de Indiana Jones. O grande problema é que muitas destas secções de acção foram claramente mal implementadas. Os controlos são pouco responsivos, as mecânicas revelam-se demasiado rudimentares e vários destes momentos prolongam-se mais do que seria desejável, tornando-se rapidamente frustrantes. Tudo isto aponta para uma evidente falta de polimento e transmite a sensação de estarmos perante um jogo cujo desenvolvimento foi apressado.

Visualmente, The Devil’s Daughter apresenta melhorias assinaláveis. O nível de detalhe é superior ao dos jogos anteriores e a maior liberdade de exploração é, sem dúvida, uma adição bem-vinda. A antiga interface point and click foi completamente removida, dando lugar a um esquema de controlos mais moderno, que permite alternar livremente entre uma perspectiva na primeira ou na terceira pessoa. As personagens principais beneficiam de um maior cuidado ao nível do detalhe gráfico, algo que infelizmente não se estende às personagens secundárias, onde essa atenção parece ter sido sacrificada. O trabalho de narração continua a ser bastante competente, apesar de desta vez termos um actor diferente a dar voz a Sherlock Holmes. Confesso que já não me recordo claramente da interpretação do Dr. Watson nos jogos anteriores, mas aqui a sua voz soou-me bastante mais familiar e adequada ao personagem, ao contrário do que tinha sentido em Crimes & Punishments. A banda sonora mantém-se agradável e recheada de temas de época, contribuindo de forma eficaz para a atmosfera geral do jogo.

No final de contas, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter acabou por ser uma desilusão. Apesar de a introdução de novos momentos de acção poder parecer, em teoria, uma boa forma de diversificar a jogabilidade, a verdade é que a sua fraca execução compromete seriamente a experiência. Tudo aponta para um título que teria beneficiado de um maior tempo de desenvolvimento e de um polimento mais cuidado. Também esperava uma narrativa mais envolvente e interligada, e o facto de os casos serem maioritariamente independentes entre si representa, na minha opinião, uma oportunidade perdida. Uma estrutura mais coesa teria não só fortalecido a história como também atribuído um peso real às decisões de acusar, condenar ou absolver os suspeitos. Após The Devil’s Daughter, a Frogwares optou por fazer um reboot à série com o lançamento de Chapter One em 2021, seguido de um remake de The Awakened em 2023. São lançamentos que acompanho com alguma curiosidade e que planeio jogar num futuro próximo, agora que descobri que ambos tiveram direito a edições físicas na Coreia do Sul e estou seriamente a considerar a sua importação.