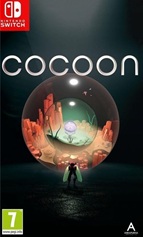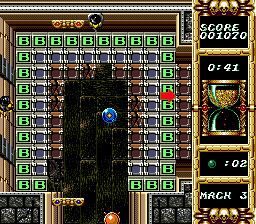Vamos agora voltar à Nintendo Switch para uma rapidinha a mais um jogo indie publicado pela Annapurna Interactive, empresa que tem vindo a lançar muitos títulos independentes irreverentes, como foi o caso de Stray, que já cá trouxe no passado. O meu exemplar foi comprado na loja espanhola Xtralife, algures em Setembro do ano passado, tendo-me custado cerca de 30 €. Adquiri-o numa altura em que o nome da Annapurna estava envolto em alguma polémica que levou ao despedimento de grande parte da sua força criativa principal. Com receio de que a edição física deste Cocoon esgotasse, acabei por comprá-lo a esse preço, até porque já me tinha sido fortemente recomendado por amigos. Meses depois vi-o a menos de 20 € noutras lojas. Teria sido inteligente esperar um pouco mais, mas é o que é.
O artigo de hoje é uma rapidinha porque este é um indie com uma premissa muito original, e entrar em demasiado detalhe nas suas mecânicas acabaria por estragar um pouco a surpresa. É um jogo com uma fortíssima vertente de puzzle e com uma narrativa extremamente minimalista, onde controlamos uma bizarra criatura insectóide num mundo alienígena e estranho, sem qualquer informação adicional sobre qual é o nosso papel ali. Os desafios começam simples: esferas de energia que podem ser utilizadas para activar diversos mecanismos, como plataformas amovíveis, portais de teletransporte e outros dispositivos. No entanto, à medida que avançamos na história, iremos obter esferas de diferentes cores, apercebendo-nos de que cada uma possui uma habilidade própria. As esferas laranja permitem materializar (e atravessar) certas pontes que de outra forma seriam inexistentes, as verdes solidificam ou gaseificam determinadas plataformas, as roxas podem ser clonadas ao interagir com plantas de aspecto similar, e as brancas permitem, em certos locais, disparar projécteis de energia. Cada esfera está associada a um mundo próprio e, eventualmente, teremos à nossa disposição um intrincado sistema de portais de teletransporte que nos permite atravessar estes mundos distintos.
À medida que o jogo progride, estas mecânicas vão sendo introduzidas de forma natural, tornando-se gradualmente mais complexas, até alcançarmos puzzles que exigem combinar todas as habilidades disponíveis e usá-las em diferentes mundos em simultâneo. Para além dos puzzles, há também alguns confrontos contra bosses que decorrem em várias fases, cada uma ligeiramente mais complexa que a anterior. São combates simples, mas funcionam como uma lufada de ar fresco, servindo de pausa bem-vinda entre momentos de exploração e resolução de enigmas.

Outro dos pontos fortes deste jogo são, sem dúvida, os seus visuais. Os mundos de Cocoon são misteriosos, alienígenas, repletos de motivos biomecânicos e insectóides que lhes conferem uma atmosfera muito particular. De um ponto de vista técnico, mesmo num sistema mais modesto como a Nintendo Switch, os gráficos acabam por estar muito bem conseguidos, em parte devido à própria geometria dos níveis ser consideravelmente simples. É, portanto, no design artístico que Cocoon mais se destaca nesta área. E a acompanhar os belíssimos visuais temos uma banda sonora igualmente minimalista, de contornos electrónicos, que casa na perfeição com a estética e a estranheza do mundo apresentado.

No fim de contas, Cocoon acabou por se revelar uma óptima surpresa. Os visuais excêntricos, a narrativa minimalista e as mecânicas de jogo simples, mas gradualmente mais complexas à medida que avançamos na aventura, tornam este indie uma experiência muito interessante e uma forte recomendação para quem aprecia jogos com uma componente de puzzle e exploração bem integrada.