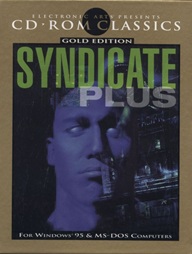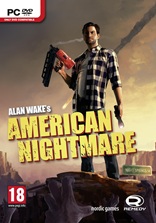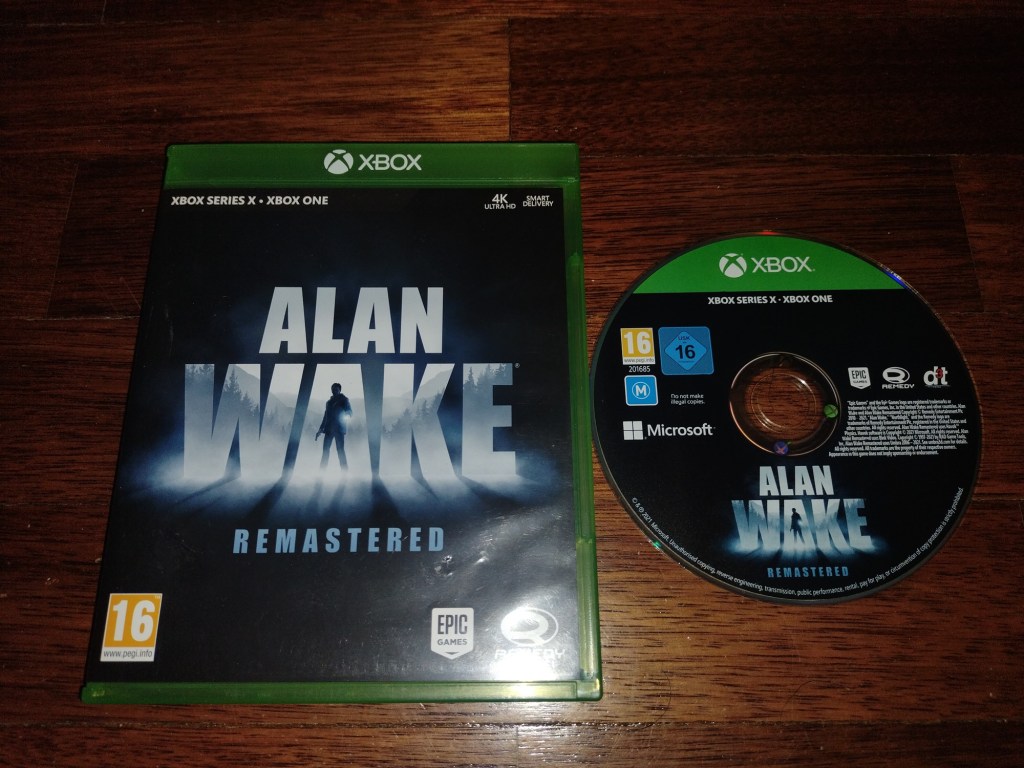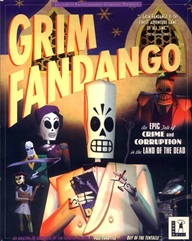Ao longo dos últimos meses fui jogando, ocasionalmente, mais um clássico da Bullfrog: Syndicate. Sempre achei que este jogo fosse um shooter com alguma componente estratégica, à semelhança de Cannon Fodder (dos também britânicos Sensible Software), mas surpreendeu-me o facto de ser bem mais complexo do que imaginava. Por outro lado, Syndicate acabou por se revelar algo repetitivo, o que me levou a jogá-lo em doses curtas ao longo de todo este tempo. O meu exemplar é meramente digital, tendo sido oferecido algures em 2021 pelo GOG, em conjunto com a sua sequela Syndicate Wars, que também planeio jogar em breve. Esta edição, Syndicate Plus, inclui não só o jogo base como a expansão American Revolt, que confesso não cheguei a terminar por razões que detalharei mais à frente.
A principal inspiração de Syndicate é, sem dúvida, o clássico filme Blade Runner. O jogo decorre num futuro sombrio e cyberpunk, onde o mundo é governado por megacorporações. Após uma delas ter inventado um chip sensorial capaz de alterar a percepção da realidade de quem o utiliza, rapidamente se gerou um cenário em que essas entidades se tornaram também poderosas organizações criminosas, dispostas a controlar o planeta por métodos cada vez mais violentos. O jogador comanda um grupo de um a quatro agentes pertencentes a uma dessas facções, e o objectivo é cumprir dezenas de missões espalhadas por várias regiões do globo, conquistando gradualmente cada território.

Para além das mecânicas de combate, o jogo incorpora também alguns elementos de estratégia, permitindo-nos taxar os habitantes dos territórios conquistados. No entanto, se os impostos forem demasiado altos, a população pode revoltar-se e o território é perdido, obrigando-nos a repetir a missão associada. O dinheiro obtido através da tributação serve para melhorar os nossos agentes, quer através de implantes cibernéticos que reforçam as suas capacidades, quer adquirindo armamento e equipamento adicional. Podemos ainda investir no desenvolvimento de versões mais avançadas desses mods ou de novas armas, sendo que quanto maior o montante investido, mais rápido se processa a investigação e ficam disponíveis.

O combate é, como já mencionei, bastante mais complexo do que esperaria inicialmente. Na sua essência, trata-se de um shooter táctico, pois podemos controlar (individualmente ou em grupo) entre um e quatro agentes em simultâneo. Syndicate é um dos primeiros jogos a atribuir funções contextuais distintas aos botões esquerdo e direito do rato: o esquerdo serve para ordenar às unidades seleccionadas que se desloquem até ao ponto indicado, enquanto o direito é usado para executar acções diversas, como atacar inimigos ou recolher armas deixadas no chão. O elemento mais importante a dominar está, contudo, nas barras coloridas associadas a cada agente, que representam os níveis de adrenalina (vermelho), percepção (azul) e inteligência (verde). Níveis elevados de adrenalina permitem mover-se mais rapidamente, mas reduzem a regeneração natural da sua barra de vida. Uma percepção alta melhora a pontaria, sobretudo com armas de precisão, enquanto reduzir esse valor em confrontos com grandes grupos torna os disparos mais amplos, atingindo mais alvos em simultâneo. A inteligência, por sua vez, define o comportamento autónomo dos agentes quando não estão sob controlo directo: um nível elevado garante reacções mais rápidas perante ameaças, o que é útil para proteger pontos estratégicos. No entanto, manter os nossos cyborgs constantemente “turbinados” consome energia adicional, sendo por isso sensato afastá-los da acção de tempos a tempos para que recuperem.
As missões dividem-se essencialmente entre assassinatos de alvos específicos, sabotagem e destruição de equipamento, escolta ou recrutamento. Para estas últimas, é indispensável utilizar o Persuadertron, um dispositivo capaz de efectuar uma espécie de lavagem cerebral sobre civis ou agentes inimigos, tornando-os seguidores temporários. Devemos então escoltá-los até um ponto de extracção para concluir a missão. Este equipamento tem ainda usos adicionais: as pessoas persuadidas podem servir de escudo humano durante os combates, e aquelas que sobrevivem até ao final da missão passam a estar disponíveis como novos agentes, substituindo eventuais baixas. Syndicate está repleto de outros pequenos pormenores que enriquecem a experiência, e o facto de tudo decorrer em tempo real demonstra bem o esforço da Bullfrog em criar um sistema de jogo ambicioso e cheio de possibilidades, ainda que exija uma curva de aprendizagem considerável. No entanto, confesso que 50 missões acabam por tornar o jogo também um pouco repetitivo, até porque não há propriamente uma linha narrativa que nos prenda ao ecrã, apenas a sua jogabilidade.

No que toca ao grafismo, Syndicate apresenta uma perspectiva isométrica com um design de arte escuro e austero, onde as influências de Blade Runner e de toda a estética cyberpunk são inegáveis. No entanto, apesar de esta perspectiva nos transmitir uma boa sensação de profundidade, também impõe algumas limitações: há zonas do mapa, como as traseiras dos edifícios ou os seus interiores, onde os nossos agentes se tornam invisíveis, o que dificulta a acção, sobretudo quando os alvos se escondem nessas áreas. Ainda assim, para um jogo de 1993, a fidelidade visual é impressionante graças ao cuidado no detalhe e à coerência artística. As cidades estão repletas de civis, há polícias a patrulhar as ruas, e um pequeno mapa no canto do ecrã fornece informações cruciais em tempo real. A nível sonoro, o jogo está igualmente bem conseguido, com efeitos distintos e algumas vozes digitalizadas. A introdução em CGI era notável para a época, e a banda sonora (embora limitada em variedade) adequa-se perfeitamente à atmosfera do jogo. Durante a exploração, a música mantém um tom tenso mas contido, enquanto a aproximação de inimigos desencadeia uma faixa mais acelerada, com transições entre temas executadas de forma exemplar.
Syndicate acabou por me surpreender bastante pela positiva, sobretudo pela profundidade das suas mecânicas, revelando-se muito mais complexo do que o shooter táctico ao estilo de Cannon Fodder num universo cyberpunk que eu inicialmente imaginava. Contudo, a curva de aprendizagem é longa, e a leitura do manual torna-se essencial (felizmente o GOG inclui todo esse material em formato digital) para compreender plenamente as suas nuances. Apesar da riqueza estratégica, as cinquenta missões acabam por se tornar algo repetitivas, razão pela qual optei por abordá-lo em sessões curtas e espaçadas. O pacote disponível no GOG inclui também a expansão American Revolt, na qual todo o continente americano se insurge, acrescentando 21 missões adicionais que visam retomar o controlo desses territórios. O nível de dificuldade, porém, é substancialmente mais elevado e, como a narrativa não apresenta novidades, acabei por não a concluir. Syndicate recebeu algumas sequelas ao longo dos anos (que tenciono jogar em breve) e também diversas conversões para as consolas da época, incluindo a da Mega Drive, da qual possuo um exemplar na colecção. Imagino que essas versões em sistemas 16bit sejam bastante mais simplificadas em termos de mecânicas e conteúdo, mas estou curioso para ver como resultaram. Será algo a descobrir muito em breve.