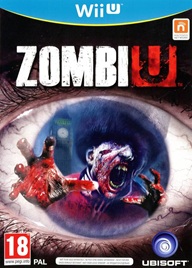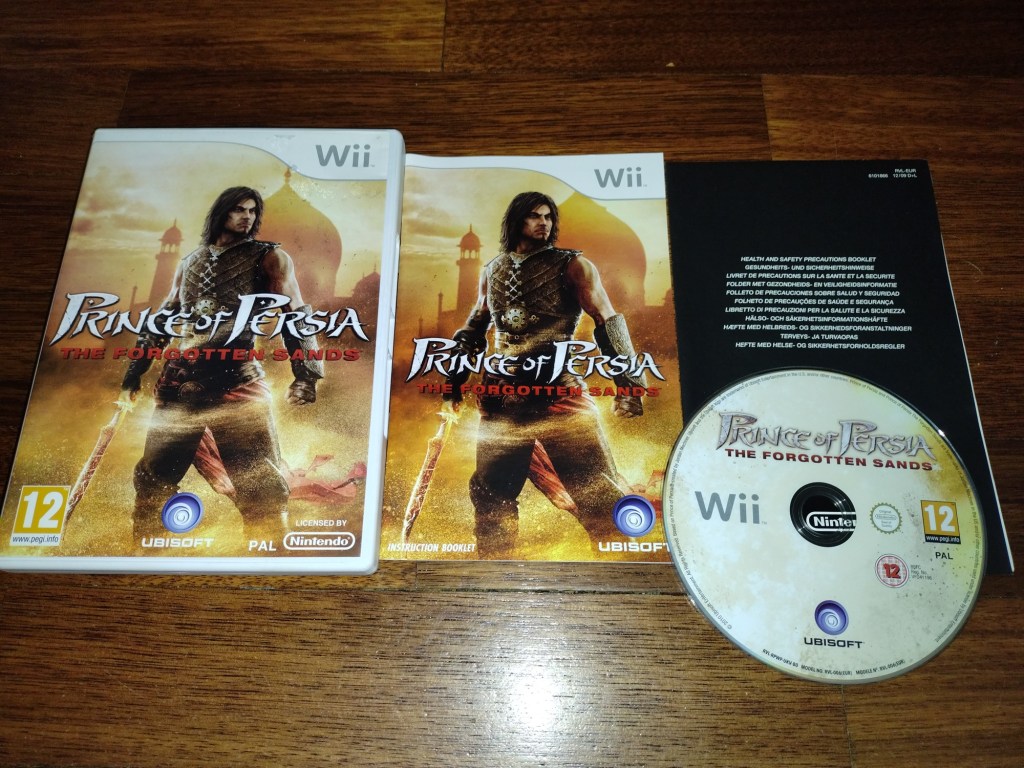Após um interregno de quatro anos, foi finalmente tempo de regressar à série Assassin’s Creed da Ubisoft. O último jogo da saga que tinha jogado foi Assassin’s Creed Rogue, um título lançado em simultâneo com Unity para as consolas da geração anterior, PlayStation 3 e Xbox 360, e que me havia surpreendido pela positiva. Para além de funcionar como uma espécie de epílogo de Assassin’s Creed IV: Black Flag, Rogue fazia também a ponte narrativa com Assassin’s Creed III e estabelecia as bases para os acontecimentos deste Unity. Sinceramente, já não me recordo quando ou onde comprei este exemplar, mas foi seguramente barato.
Esta aventura decorre em pleno período conturbado das revoluções Francesas do século XVIII, colocando-nos uma vez mais no centro do conflito centenário entre Templários e Assassinos. O protagonista é Arno Dorian, personagem com ligações directas a alguém que surge nas cenas finais de Assassin’s Creed Rogue. Após esses acontecimentos, Arno acaba por ser adoptado por François de la Serre, um reconhecido aristocrata parisiense, que o cria lado a lado com a sua filha Élise, por quem Arno se apaixona com o passar dos anos. No entanto, esse aparente idílio é abruptamente interrompido quando de la Serre é brutalmente assassinado em circunstâncias misteriosas. Arno é acusado do homicídio e acaba preso na Bastilha, onde conhece um Assassino que, após uma fuga bem-sucedida, o introduz na Ordem. A partir daí, Arno embarca numa jornada pessoal para descobrir a verdade por detrás do assassinato do seu pai adoptivo e vingar-se dos responsáveis. Quando se revela que de la Serre era, afinal, o Grão-Mestre da Ordem dos Templários em França, a teia conspiratória adensa-se ainda mais. Tal como é habitual na série, a narrativa mantém-se envolvente e permite-nos interagir com várias figuras históricas da época, como o Marquês de Sade ou Napoleão Bonaparte.

Ao iniciar a aventura, Assassin’s Creed Unity aparenta ser mais um título muito semelhante aos seus antecessores. Continuamos perante um jogo de acção com fortes elementos furtivos, inserido num mundo aberto denso, repleto de missões principais, actividades secundárias e coleccionáveis. No entanto, à medida que avançamos, tornam-se evidentes algumas diferenças importantes. Existem pequenas alterações nos controlos, como a possibilidade de nos agacharmos através do botão L2, mas a mudança mais significativa reside no novo sistema de skills. Nos jogos anteriores da saga, as habilidades da personagem eram desbloqueadas de forma progressiva à medida que a narrativa avançava. Em Unity, apenas algumas capacidades seguem essa lógica. Ao ingressarmos na Ordem dos Assassinos, desbloqueamos a tradicional lâmina escondida, essencial para eliminações furtivas, e mais tarde a phantom blade, uma besta oculta capaz de disparar lâminas à distância. Tudo o resto, incluindo habilidades consideradas básicas, como a possibilidade de nos sentarmos num banco com outros NPCs para nos camuflarmos na multidão, tem de ser desbloqueado manualmente. Ao completar missões principais vamos obtendo pontos que nos permitem adquirir novas skills, mas esse progresso não é suficiente para desbloquear tudo. Os pontos restantes são obtidos através das missões de co-op, um dos grandes focos deste Unity. Embora seja tecnicamente possível jogar estas missões a solo e de forma offline, a suposta dificuldade acrescida levou-me a optar por não o fazer, o que, na prática, acabou por limitar o acesso a certas habilidades e opções tácticas.

No que toca aos coleccionáveis, encontramos uma panóplia de baús de tesouro e outros itens espalhados pelos diversos distritos de Paris. Os baús surgem agora em diferentes cores e formatos. Os brancos funcionam como os tradicionais, enquanto os azuis, amarelos e vermelhos introduzem novas variações. Estes últimos encontram-se trancados e exigem o desbloqueio de uma habilidade específica de lockpicking, bem como a superação de um mini-jogo para serem abertos. Existem três níveis de dificuldade, o que implica também investir nos três níveis da habilidade correspondente, aplicável tanto a baús como a portas trancadas. Estes mini-jogos exigem reacções rápidas e um timing bastante apertado, o que me causou várias frustrações ao longo da experiência. Para agravar a situação, estes baús vermelhos, assim como outros coleccionáveis e até certas missões secundárias, não ficam automaticamente assinalados no mapa após sincronizarmos um ponto elevado do território, como acontecia nos jogos anteriores. Nem sequer existem mapas específicos para comprar, o que obriga a uma exploração exaustiva e meticulosa caso queiramos descobrir tudo. Não é por acaso que terminei o jogo com mais de 75 horas registadas, tendo realizado praticamente todo o conteúdo disponível, com excepção da maioria das missões cooperativas.

Relativamente às missões secundárias, para além dos habituais objectivos da série, como proteger NPCs, seguir alvos, executar assassínios específicos ou recuperar objectos, existem também actividades com mecânicas distintas. As Murder Mysteries colocam-nos perante cenas de crime onde teremos de recolher pistas, entrevistar testemunhas e, no final, acusar o suspeito que consideramos culpado. Apesar de apreciar este tipo de abordagem mais detectivesca, senti que estas missões não foram particularmente bem implementadas, tornando-se algo rígidas e pouco gratificantes. Existem ainda os Nostradamus Enigmas, desafios que nos obrigam literalmente a vasculhar Paris de uma ponta à outra em busca de hieróglifos luminosos, com o objectivo final de desbloquear uma vestimenta associada a um antigo Assassino.

Convém ainda referir o sistema de progressão económica. Para além de uma base principal que podemos melhorar, é possível adquirir e renovar outros edifícios espalhados pela cidade, os quais geram rendas periódicas. O dinheiro acumulado pode ser utilizado para comprar consumíveis, como munições, medkits ou ferramentas de lockpicking, mas também para investir em novo equipamento. Existe uma enorme variedade de armas e peças de armadura, cada uma com impacto directo nos stats da personagem, incluindo a capacidade de transportar mais itens ou melhorar atributos específicos. Armas e equipamento podem ainda ser melhorados, desde que tenhamos pontos suficientes, os quais são obtidos ao realizar determinadas acções, como assassínios furtivos, headshots com armas de fogo ou execuções mais estilizadas em combate corpo-a-corpo.
Passando para o campo audiovisual e técnico, é impossível não mencionar o lançamento desastroso de Assassin’s Creed Unity. A enorme quantidade de bugs, em especial glitches gráficos que rapidamente se tornaram virais, gerou uma onda de críticas que marcou profundamente a reputação do jogo. A reacção foi tão negativa que a Ubisoft lançou vários patches correctivos nos meses seguintes e chegou mesmo a oferecer um DLC que continua a história de Arno, agora noutra região de França. Tendo jogado o título já muitos anos depois, não vivi essa versão inicial caótica e, infelizmente, nunca cheguei a ver personagens reduzidas apenas a cabelo, olhos e boca a flutuar no ar. Ainda assim, deparei-me com alguns problemas menores, como alvos de missões secundárias que não apareciam e me obrigaram a reiniciar a missão, bem como animações ocasionalmente quebradas.

No que respeita à direcção artística, considero que o jogo consegue retratar de forma bastante convincente a Paris da época. A cidade é o verdadeiro palco central desta aventura, repleta de edifícios emblemáticos que ainda hoje fazem parte da paisagem parisiense. A narrativa leva-nos também, de forma pontual, a visitar outras épocas históricas, como a Idade Média, a Belle Époque do final do século XIX, aquando da inauguração da Torre Eiffel, ou até a Paris ocupada pelos Nazis nos anos 40. No geral, estamos perante um jogo visualmente realista e detalhado, tendo em conta o ano de lançamento e a escala típica de um open world. O trabalho sonoro é igualmente competente, embora me tenha causado alguma estranheza ouvir uma mistura constante de vozes em inglês com ocasionais falas em francês enquanto atravessava as multidões parisienses, algo que acabou por afectar ligeiramente a imersão.
Em suma, apesar de Assassin’s Creed Unity ter sido, na maior parte do tempo, uma experiência agradável, é também um jogo que introduz várias novidades nem sempre bem alinhadas com as minhas preferências. O aumento significativo do número de coleccionáveis, aliado à ausência de mapas que indiquem a sua localização, acabou por se tornar frustrante. Inicialmente encarei esse processo quase como um cozy game, limpando gradualmente o mapa de ícones, mas esse sentimento rapidamente deu lugar a uma sensação de obrigação. O meu lado mais obsessivo não me permitia ignorar baús secretos por abrir e as últimas horas de jogo foram marcadas por mais cansaço do que prazer. As alterações ao sistema de skills deixaram-me sentimentos mistos, assim como o foco nas missões cooperativas, apesar de compreender o apelo que estas poderão ter para outros jogadores. Segue-se Assassin’s Creed Syndicate, mas confesso que, depois desta experiência, só deverei regressar à série daqui a pelo menos um ano.