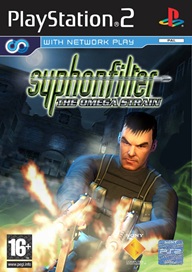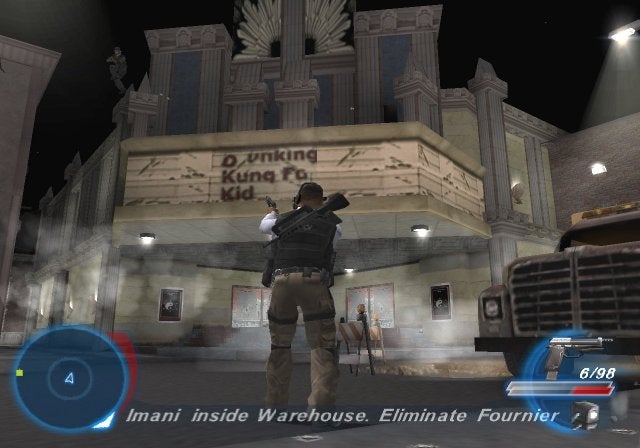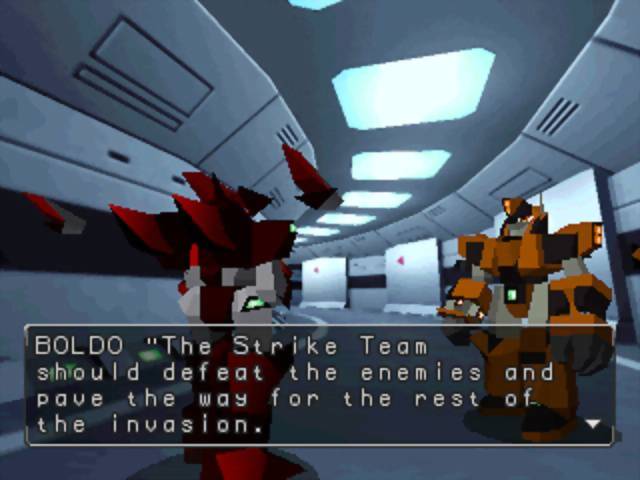Vencedor de inúmeros prémios ao longo do ano passado, Clair Obscur: Expedition 33 é o jogo de estreia do estúdio francês Sandfall Interactive. Apesar das suas origens europeias, claramente notórias em todo o estilo artístico ao longo da aventura e na música que vamos ouvindo, Expedition 33 é uma notável homenagem aos JRPGs como os Final Fantasy clássicos, ao adoptar uma narrativa forte em conjunto com um sistema de combates por turnos que pisca o olho ao active time battle introduzido originalmente em Final Fantasy IV. O meu exemplar foi comprado algures no final de Agosto de 2025, numa das campanhas da Worten de “leve 3 e pague 2”, com o preço final deste jogo a rondar os 33 €, o que acabou por ser uma autêntica pechincha, tendo em conta a sua qualidade e conteúdo.
O conceito do jogo é bastante original. A acção decorre num mundo fantasioso com uma estética claramente inspirada pela belle époque francesa da segunda metade do século XIX, onde, há muitos anos atrás, ocorreu um evento cataclísmico conhecido como “A Fractura”, que dizimou toda a população do continente, à excepção do coração da cidade de Lumière, que foi arrastada para o meio do oceano. Desde essa altura, os sobreviventes de Lumière sofrem também do gommage, um evento anual em que uma misteriosa divindade, aqui apelidada de Paintress, pinta um número num gigantesco monólito longínquo, e toda a gente com uma idade igual ou superior a esse número acaba por morrer. Desde então são lançadas expedições de voluntários ao continente para travar esta entidade, mas o território encontra-se povoado por poderosas criaturas hostis, conhecidas como Nevrons, pelo que, até à data, nenhuma expedição teve sucesso e os números dos habitantes de Lumière têm vindo a diminuir drasticamente. Nós encarnamos um grupo de voluntários da expedição número 33, com uma missão clara, travar a “pintora” de uma vez por todas!
No que toca às mecânicas de jogo, estamos perante um RPG com combates por turnos, mas não aleatórios, já que os inimigos estão visíveis no ecrã e apenas entramos em combate quando entramos em contacto com os mesmos. Se conseguirmos pressionar o botão de ataque, R1, antes de o encontro começar, ganhamos vantagem no confronto, com os primeiros ataques a serem da nossa equipa. Durante os combates temos à disposição uma série de acções, como atacar, usar habilidades especiais ou magias, que consomem ability points, ou utilizar itens. Mais tarde vamos desbloqueando outros tipos de acções, como o free aim, que nos permite disparar projécteis mágicos a troco de ability points, ou os gradient attacks, habilidades especiais que são desbloqueadas em momentos específicos da aventura. Os combates utilizam também quick time events. Em muitos ataques ou habilidades temos de pressionar botões dentro de um timing específico apresentado no ecrã, enquanto que, quando somos atacados, podemos pressionar círculo para nos evadirmos, R1 para deflectir o golpe, podendo inclusive contra-atacar de forma automática, ou X para saltar, algo igualmente sinalizado por um ícone característico. Estas mecânicas, particularmente o parry, podem ser extremamente úteis, não só para quebrar certas defesas inimigas, como também para recuperar ability points para o turno seguinte.
Cada combate bem-sucedido recompensa-nos com dinheiro, aqui denominado chroma, pontos de experiência e, ocasionalmente, itens ou equipamento. A influência do active time battle de Final Fantasy é notória, já que a ordem pela qual as personagens actuam está directamente relacionada com a sua agilidade. Sempre que subimos de nível ganhamos três pontos que podem ser distribuídos livremente por atributos como vida, ataque, defesa, agilidade ou sorte, assim como em skills que desbloqueiam novas habilidades.
Por outro lado, cada personagem apresenta também dinâmicas e mecânicas de combate distintas, o que nos obriga a pensar em estratégias diferentes nos confrontos mais exigentes. No entanto, é mesmo nas armas e acessórios que o jogo ganha uma vertente estratégica ainda mais profunda. As armas possuem diferentes categorias e tipos de dano elemental, enquanto os acessórios, aqui apelidados de pictos, oferecem benefícios directos aos atributos das personagens quando equipados, assim como uma série de efeitos passivos, como ganhar mais ability points por acção, aumentar o dano infligido ou resistir a estados negativos como slow ou defenceless, entre muitas outras possibilidades. Algo que não entendi bem no início do jogo foi o facto de que, depois de equiparmos estes acessórios como pictos e os utilizarmos vezes suficientes em combate até os dominarmos, os seus efeitos passivos ficam disponíveis para serem equipados separadamente como luminas. Para isso é necessário aumentar os lumina points de cada personagem, algo que acontece naturalmente ao subir de nível, mas também através do uso de certos itens. Este sistema abre as portas a um nível de customização tão vasto que é possível, em certos casos, partir por completo o sistema de combate.

Alguns inimigos, particularmente certos bosses, são bastante exigentes, obrigando-nos a tempos de reacção muito apertados para nos evadirmos ou, idealmente, deflectirmos todos os seus ataques. Tendo em conta que existem itens que permitem fazer reset às skills e aos atributos evoluídos, é possível, sobretudo recorrendo a certas combinações de pictos e luminas, criar sinergias que trivializam grande parte dos combates, especialmente a partir de um determinado evento que ocorre já numa fase mais avançada da narrativa principal, onde ganhamos acesso a um picto que permite ultrapassar o limite de 9999 pontos de dano. Como nunca fui grande fã do sistema de quick time events, acabei por abusar destas mecânicas e, a partir de certa altura, consegui derrotar praticamente todos os inimigos e bosses em poucos turnos, muitas vezes sem lhes dar sequer oportunidade de ripostar. Por um lado, fiquei com pena de não ter experienciado os desafios que muitos destes encontros poderiam proporcionar, mas confesso que me cansei de estar constantemente preocupado em esquivar-me ou deflectir ataques. A grande excepção foi o conteúdo adicional lançado gratuitamente no final do ano passado. Um dos bosses secretos possuía uma habilidade que anulava este tipo de abuso do sistema de combate, obrigando-me novamente a transpirar bastante para o conseguir derrotar!
Convém também abordar o ritmo de exploração do jogo. Visto que a acção se passa num continente desprovido de qualquer povoação humana, iremos, no entanto, encontrar algumas outras criaturas nativas e tipicamente amigáveis, como os Gestrals e os Grandis. Os primeiros, em particular, são mais numerosos, sendo possível explorar a cidade onde vivem, repleta de lojas e outras actividades. Ao longo da aventura, seja ao explorar as dungeons ou o mapa mundo, iremos ainda encontrar Gestrals solitários com enormes mochilas às costas. Estes funcionam como vendedores ambulantes, onde podemos comprar mantimentos ou novas armas e acessórios, bem como desafiá-los para combates, de forma a desbloquear itens ainda mais valiosos. A exploração encontra-se assim dividida entre diversas dungeons com temáticas completamente distintas entre si e a exploração do mapa mundo como um todo. Ao longo do decorrer da história conhecemos uma criatura gigante e afável, Esquié, que nos ajuda a percorrer o mapa. Inicialmente ganhamos a habilidade de destruir obstáculos em terra que nos impediam de alcançar certos locais, para mais tarde desbloquear a capacidade de navegar pelos oceanos ou até voar. É nesse momento que o mapa se abre na totalidade, revelando uma enorme quantidade de conteúdo opcional e sidequests para completar, caso assim o desejemos.
Visualmente estamos perante um jogo que achei francamente bem conseguido. A estética belle époque, evidente sobretudo na cidade de Lumière, é um tema pouco explorado nos videojogos e, tendo em conta as origens do estúdio, revela-se uma escolha acertada. No entanto, assim que saímos de Lumière e começamos a explorar o restante continente, fui agradavelmente surpreendido pela grande variedade de cenários e paisagens, tanto fantasiosas como mais naturais, que o jogo apresenta. Mesmo o design dos inimigos e das criaturas não hostis com quem interagimos, como os hilariantes Gestrals ou os gigantes afáveis Grandis, é, no seu todo, bastante conseguido. Um detalhe interessante prende-se com o design das personagens e das suas animações faciais, que surgem frequentemente marcadas por sujidade ou manchas de sangue, reforçando visualmente as dificuldades que a expedição enfrenta. A transição do motor gráfico de Unreal Engine 4 para Unreal Engine 5 é também, a meu ver, uma decisão acertada, permitindo à Sandfall criar um mundo fantasioso com um nível de detalhe ainda mais elevado.

No que toca ao som, joguei toda a campanha com o voice acting em inglês, embora confesse que deveria ter optado pelo francês. Não coloco em causa a qualidade das interpretações, que considero muito boas, mas tendo em conta que todas as personagens possuem nomes franceses e que várias expressões em francês surgem nos diálogos em inglês, sinto que a experiência teria sido mais natural com a dobragem original. Talvez o faça numa eventual continuação. Já a banda sonora é bastante ecléctica e, na minha opinião, muito bem conseguida, alternando entre temas de clara influência francesa, com acordeão e outros instrumentos acústicos típicos, faixas orquestrais de contornos épicos e até momentos de música electrónica reservados a combates mais intensos.
Expedition 33 foi, no final de contas, um jogo que me agradou imenso. Já há muitos anos que não jogava um título de mecânicas tão tradicionais de JRPG numa plataforma moderna e, apesar de todos os prémios recebidos ao longo de 2025, incluindo críticas muito positivas em solo japonês, território historicamente prolífero neste género, revelou-se uma experiência memorável. Com mais de 60 horas de jogo investidas, acabei por fazer praticamente tudo o que havia para fazer, ainda que existam alguns pontos menos positivos a assinalar.
Já referi a minha falta de entusiasmo em relação às mecânicas de quick time events no combate, mas o que menos gostei foram os segmentos de plataformas que surgem ocasionalmente, sobretudo para alcançar itens escondidos ou vencer alguns dos mini-jogos propostos pelos Gestrals nas suas praias. Estas secções pareceram-me desnecessárias e, pior ainda, mal implementadas, tornando-se frequentemente frustrantes. No que toca à narrativa, algo que vários amigos meus comentaram de forma menos positiva é o facto de a mesma ser algo lenta e até aborrecida nos primeiros dois terços do jogo. Já eu concordo apenas com a parte de ser lenta, o que não foi necessariamente um problema para mim. O conceito do jogo é tão original e eu estava tão deslumbrado em explorar todo aquele mundo fantasioso, muito sui generis, que não me importei com isso. Ainda assim, e sem revelar qualquer detalhe da história, esse último terço revelou-se de facto bastante interessante e deixou-me com mais perguntas do que respostas, despertando automaticamente um grande interesse por uma eventual sequela que dê continuidade ao universo de Clair Obscur.