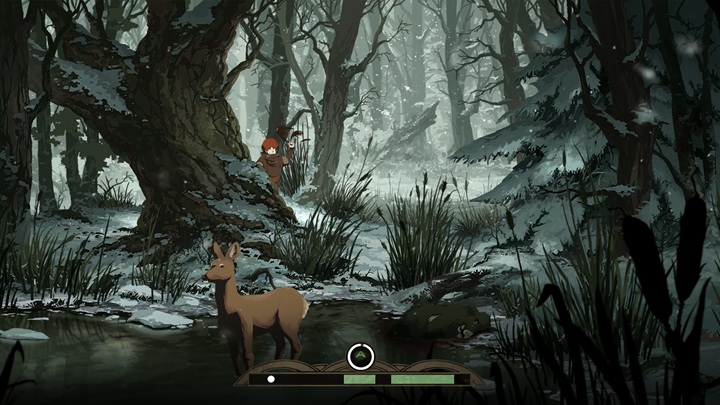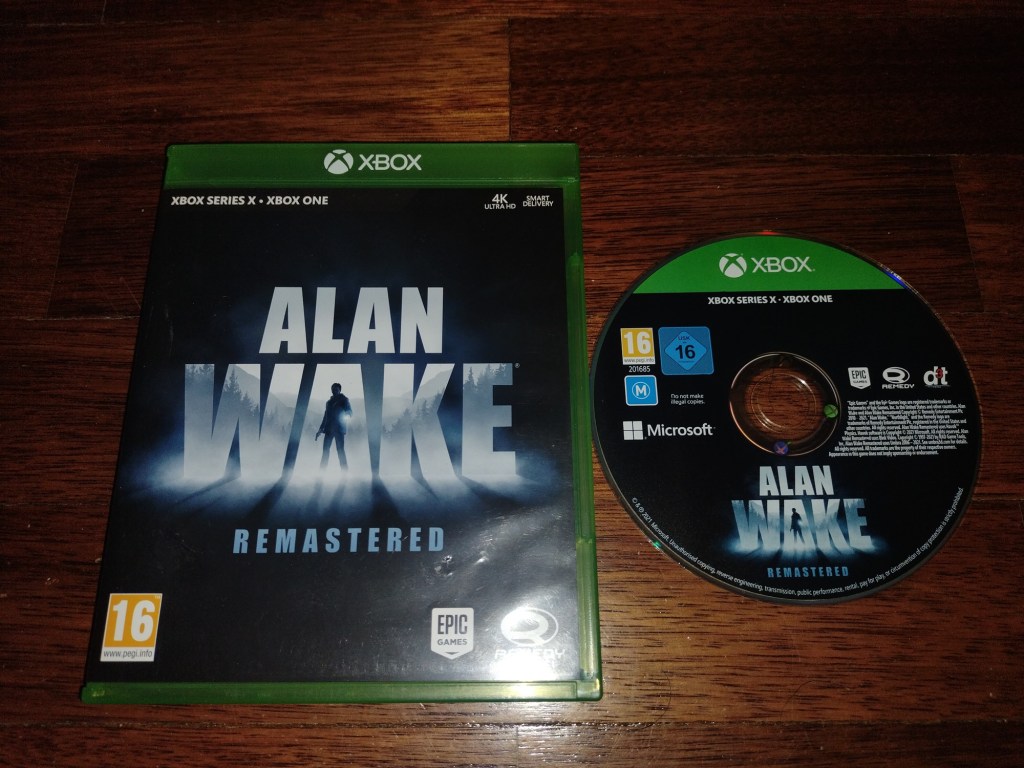Tempo de regressar aos jogos da Remedy, desta vez com Quantum Break, aquele que continua a ser, até hoje, um dos poucos exclusivos da Xbox One que permanecem confinados ao ecossistema Xbox. Originalmente idealizado como uma sequela de Alan Wake, o conceito-base por detrás do jogo acabou por sofrer várias alterações a pedido da própria Microsoft, resultando num interessante jogo de acção centrado em viagens no tempo e complementado por várias sequências em live action, apresentadas como episódios de uma série televisiva. O meu exemplar foi adquirido numa CeX, algures em Setembro de 2024, por 8€. Trata-se da edição que inclui um código para descarregar a versão Xbox 360 de Alan Wake e os seus DLCs, embora esse já tivesse sido utilizado.
A aventura coloca-nos na pele de Jack Joyce, que recebe uma chamada do seu amigo de longa data, Paul Serene, a pedir-lhe ajuda numa experiência de um projecto ultra-secreto. Acontece que Paul e Will, o irmão de Jack, vinham a trabalhar há anos na criação de uma máquina do tempo e, quando finalmente a testam, algo corre terrivelmente mal: a utilização da máquina provoca uma fractura no espaço-tempo que conduzirá inevitavelmente ao fim do mundo. Para além disso, tanto Paul como Jack são expostos a uma forma de radiação que lhes confere habilidades de manipulação temporal, as quais iremos usar ao longo da aventura. Contudo, Paul acaba também por se revelar o antagonista da história, o líder da megacorporação Monarch, que procura controlar este poder para alcançar os seus próprios fins, enquanto Jack procura uma forma de salvar o mundo e reencontrar o seu irmão Will, o verdadeiro mentor de toda esta tecnologia.
A narrativa encontra-se dividida entre secções jogáveis de acção, centradas nas habilidades de manipulação temporal, e episódios gravados com actores reais, apresentados como se de uma série televisiva se tratasse. No que toca à jogabilidade, Quantum Break assume-se como um jogo de acção e aventura onde, à medida que avançamos na narrativa, vamos desbloqueando um conjunto de poderes especiais que se revelam fundamentais em combate. Por exemplo, podemos suspender o tempo numa área limitada, o que é útil para imobilizar inimigos, ou recorrer a uma forma de teletransporte para evitar dano ou apanhar adversários de surpresa. Podemos ainda criar um “escudo temporal” que nos protege por breves instantes, ou gerar uma explosão concentrada de energia. Fora do combate, certas habilidades de rewind combinam-se com as restantes para resolver pequenos puzzles ambientais e ultrapassar secções de plataformas.

Naturalmente, não faltam também coleccionáveis, como é habitual nos jogos da Remedy. Para além de uma vasta quantidade de documentos que enriquecem o enredo e desenvolvem o universo, é possível recolher itens que permitem melhorar as nossas habilidades de manipulação temporal. No final de cada capítulo, o jogo introduz breves sequências de “junção”, nas quais controlamos Paul Serene. Um dos poderes de Paul é a capacidade de prever o futuro e, nestas secções, somos levados a escolher entre duas decisões difíceis que alteram o rumo dos acontecimentos. Contudo, segundo o que li, essas escolhas não conduzem a ramificações narrativas verdadeiramente distintas, apenas a pequenas variações sem grande impacto no desfecho final.

Quantum Break marcou também a estreia do motor gráfico Northlight Engine, que viria a ser utilizado mais tarde no título seguinte da Remedy, Control. Graficamente, o jogo apresentava personagens e cenários bastante detalhados para os padrões de 2016, destacando-se sobretudo pelos efeitos de luz e partículas, muito presentes devido aos frequentes “engasgos temporais” que atravessamos ao longo da aventura. No entanto, o jogo tornou-se igualmente conhecido pela forma como efectuava upscale da resolução. Na Xbox One, corria originalmente a 720p, com upscale para 1080p através da utilização de frames anteriores para preencher a imagem. Isso resultava, infelizmente, numa apresentação algo “borratada” e com ocasionais artefactos visuais. Posteriormente, recebeu um patch para a Xbox One X que permitia gráficos até 4K, mas recorrendo à mesma técnica, herdando por isso os mesmos problemas. Ainda assim, nada disto afecta a jogabilidade e, tirando um ou outro soluço pontual, a performance pareceu-me bastante estável no geral. Creio que não existe também nenhuma melhoria adicional se jogado numa Xbox Series X.

Já no que diz respeito ao som, Quantum Break mostra-se igualmente competente. Tal como Alan Wake já havia conseguido, a banda sonora é eclética, misturando temas de inspiração electrónica com faixas pop/rock que pontuam momentos-chave da narrativa. O design sonoro revela grande atenção ao detalhe, com efeitos distintos sempre que o protagonista entra num “engasgamento temporal”. A componente de voz está igualmente bem conseguida, até porque a Remedy contou com um elenco de actores reconhecidos tanto para as dobragens como para as sequências filmadas de live action.
Portanto este Quantum Break foi um jogo agradável de se jogar. A sua história é interessante e as mecânicas de manipulação de tempo foram uma óptima ideia e bastante divertidas de se utilizar em combate. Gostaria no entanto que as escolhas que tomamos tivessem uma maior variedade nas consequências e no decorrer da história, pois seria seguramente uma mais valia para aumentar a longevidade do jogo.